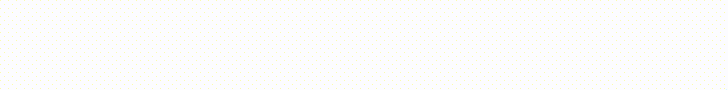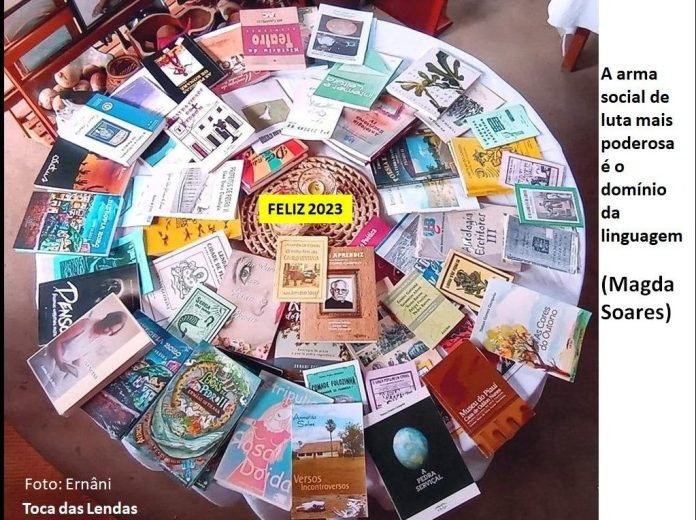De acordo com Regina Klein, a linguagem pode ser compreendida sob duas concepções: a inatista e a histórico-social. A primeira delas reduz o papel do educador no processo de ensino-aprendizagem a um ‘mero estimulador’. A segunda, faz do educador um co-leitor (da realidade) ao lado do educando, compreendendo-lhe profundamente suas peculiaridades enquanto leitor e, assim, alargando seu (dele/dela educando(a)) campo de experiência.
Ao entender a linguagem (e por extensão a leitura) como interação entre seres humanos e natureza e dos seres humanos entre si, a concepção histórico-social ganhou um espaço considerável nas últimas quatro décadas entre os educadores brasileiros. Com seus erros e acertos, claro.
Nessa esteira de pesquisa, João Wanderlei Geraldi a partir do pensamento do filósofo francês Merleau Ponty (1908-1961), chegou a dizer que a criança, o artista e o filósofo são os verdadeiros restauradores da linguagem. A arguta percepção de Geraldi nos traz a interessante provocação de que a linguagem (e a leitura) não é algo dado e acabado. Ao contrário, o filósofo a manipula para nela acomodar seu pensamento, sua concepção de mundo; o artista, para dela extrair o inusitado, o belo, o inesperadamente arrebatador; e a criança, por utilizar a linguagem de maneira lúdica e experimental (como o artista) e ao mesmo tempo ‘significativa’ como o filósofo.
Pois bem, o que fazer para, como professores, pais, avós, tios e tias que somos, conduzir nossas crianças e adolescentes segundo a concepção histórico-social da linguagem (e da leitura)? Essa é a pergunta que não quer calar desde pelo menos a década de 1970. E olhe que naquele tempo não havia essas belezuras todas das redes sociais e et cetera e tal. Vale dizer: se naqueles tempos idos a coisa não era fácil, que dizer do tempo presente?
Sem querer dar um receituário, talvez devamos abrir mão de certo preconceito residual que teimamos em transportar em nossas cabeças e do qual sempre fazemos uso e provocamos celeumas quando teimamos em apartar de um lado o sacrossanto objeto livro de papel e, de outro, os ‘famigerados’ meios eletrônicos.
Quero dizer, o suporte físico livro, que muitas vezes nós endeusamos, não possui mais do que uns 500 anos (com muita folga). Pergaminhos, tabletes de argila, de metal, ossos, couros de diversos animais conduziram e ‘preservaram’ os saberes humanos por milênios. Se nos defrontamos agora com uma nova era na qual o suporte de leitura é também o imaterial (codificado em linguagem binária), tenhamos antes de tudo calma e sejamos resilientes.
Não estou advogando o fim do livro físico nem nada, pois sou um fervoroso devorador desse tipo de suporte de leitura. Toco, acaricio, cheiro livros. Já escrevi alguns, inclusive. Mas a realidade que se impõe está aí e não está prosa, se me entendem.
Teóricos da linguagem como Klein e Geraldi nos iluminam a alma e, iluminados, penso que devamos nos aproximar de nossos filhos, alunos, netos de todas as formas possíveis no que diz respeito à leitura, essa maravilhosa prática cidadã. E esta aproximação deve ser feita também a partir do nosso respeito à ótica deles, jovens, e não apenas da nossa, muitas vezes prepotente e míope.
P.S. “Nada valerá a pena se nós também não formos leitores”. E com esta frase presto minhas homenagens à grande educadora brasileira Magda Soares que se foi por estes dias e sobre quem escreverei um artigo cuidadoso.
Ernâni Getirana (@ernanigetirana) é professor, poeta e escritor. É autor, dentre outros livros, de “Debaixo da Figueira do Meu Avô”. Escreve às quintas-feiras para esta coluna.