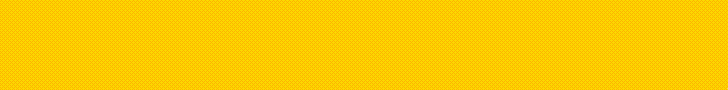Ao chegar à mina por volta das oito e quinze da manhã, já havia muitos homens trabalhando. Depois alguns me contariam que haviam chegado lá por volta das cinco. A impressão que tive foi de que eram formigas no formigueiro. A imagem é batida, mas por isso mesmo foi essa imagem que se assentou em meu cérebro.
Isso porque logo que se chega à primeira das muitas curvas do último trecho da estradinha que leva o visitante aos barreiros da mina, percebe-se que se está, pelo lado esquerdo, ao sopé vertical de um morro que tem para mais de uns trinta metros. Já pelo lado direito, o talhado quase se perde de vista. São uns oitenta metros de buraco. Ainda por cima a descida é íngreme, a areia é solta e a estradinha é estreita. Toda atenção é pouco e o aventureiro precisa descer em primeira marcha.
A coisa toda mete mais medo ainda se a pessoa (e este era meu caso) souber do acontecido que há quarenta anos vitimou o engenheiro de mina, Dr. Nilson Lacerda. Nilson Lacerda era um carioca chegado a Pedro II havia uns dez anos. Era um homem de uns sessenta anos e pouco. Homem, dado, cordial, popular mesmo. Sua casa situada no quadro da Praça da Igreja era sempre movimentada. Tanto recebia a sociedade de Pedro II para jantares e reuniões beneficentes, como recebia os gringos e brasileiros de outras partes do país que vinham comprar opala.
Encarregado da Boi Morto, o engenheiro coordenava a extração da mina de opala na qual trabalhavam para mais de duas centenas de homens, a grande maioria moradores de Pedro II, mas também havia alguns vindos de outras cidades, como João Damião, vindo de Piripiri e que se tornaria o administrador da mina.
Pois bem, Dr. Nilson era, por assim dizer, um homem muito querido na cidade, um benemérito, um benfeitor, pois que também ajudava as pessoas despossuídas dando-lhes dinheiro para comprar remédio, roupa e comida.
Durante os Festejos da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, Dr. Nilson praticamente arrematava todas as joias gritadas por Zé Gato e as oferecia ao prefeito, às senhoras dos vereadores, a amigos, enfim. Costumava comemorar seu aniversário natalício dando festas de arromba, regadas a muita comida (capão, leitoa, peru, pato) e bebida pelo meio da canela. Comiam e bebiam o rico e o pobre. Está certo que os pobres ficavam mais contidos na área do terraço e do quintal comendo os pratos feitos com o auxílio de colheres ou mesmo só das mãos, enquanto os ricos ocupavam as demais dependências da casa, sobretudo se aboletavam nos sofás que o anfitrião fazia vir do Rio de Janeiro e comiam com o uso de talheres, os pratos menos cheios, embora todos bisassem.
Até onde se sabe Dr. Nilson era desquitado. Naquela época, anos cinquenta e sessenta, só gente rica se desquitava. Em Pedro II mesmo, não havia um desquitado para fazer um chá, embora as fofoqueiras vivessem aos pulos dizendo isso e aquilo de uns e de outros.
Durante as festas que Dr. Nilson dava em sua casa, além das natalícias, havia as beneficentes. E era durante estas festas que algumas moças mais espevitadas se insinuavam para o doutor. Ou usando uma minissaia mais generosa, ou sentando-se o mais perto possível do Nilson, carioca boa praça, ou, de outra forma qualquer, ‘que toda mulher encontra quando quer’. Essa era a língua peçonhenta de uma das fofoqueiras, que Deus me livre.
É certo que Zé de França, vigia do Clube 11 de Agosto, um homenzinho franzino, curvado, baixinho, olhos de criança, de fala mansa, mas que todo mundo o temia como vigia e por quê? Porque não deixava passar nem mosquito ensebado. Nunca se soube de um filho de Deus que em tempo algum houvesse adentrado ao prestigiado templo da sociedade pedro-segundense de então quando estivesse ali na porta seu Zé de França. Muitos dos jovens de então o chamavam ‘tio Zé de França’ na vã esperança de obter benesses que nunca viriam. Pois esse homem era contratado para ser do porteiro das festas de Dr. Nilson. (CONTINUA).
Foto: Garimpo Boi Morto, Ernâni Getirana
Ernâni Getirana é professor, poeta e escritor e escreve nesta coluna às Quintas-feitas.